Por
João Paulo Guerra, TSF, 25 de Abril de 1995
O Joaquim
fez a guerra em Angola, o Mário na Guiné, o Jorge em Moçambique. Já lá vão
vinte e um anos depois do 25 de Abril mas nenhum deles consegue ainda o
cessar-fogo consigo próprio.
E é assim
que a guerra continua para eles com para todas as outras vítimas de distúrbios
pós-traumáticos do stress de guerra. A doença foi identificada no século XIX:
chamavam-lhe então coração irritável, mais tarde neurose de guerra. Depois do
Vietnam a doença foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Mas as
instituições portuguesas continuam a ignorá-la.
A equipa do psiquiatra
Afonso de Albuquerque, que trata actualmente no Hospital Júlio de Matos, em
Lisboa, 200 casos clínicos de stressados de guerra, calcula que o número de
portugueses atingidos por perturbações psíquicas ou psicológicos causadas pela
guerra colonial possa atingir os 140 mil casos, de maior ou menor gravidade.
Joaquim, Mário e Jorge são
três desses casos clínicos: 28 anos depois de Nambuangongo, em Angola, 27 anos
depois de Gadamael, na Guiné, e 25 anos depois do Cobué, em Moçambique, a
guerra, para eles, continua e o campo de batalha é a memória.
Joaquim –
Aquilo era tudo muito violento. E eu costumo dizer que a minha guerra começou
aqui, logo na instrução militar, e que os meus inimigos, os terroristas que eu
tive que enfrentar foram os oficiais. A minha guerra, o meu sofrimento começou
aqui. Eu sentia-me violentado pela instrução militar, em termos de esforço
físicos e pela agressividade das palavras. Eu não me recusei nunca a fazer os
exercícios físicos mas ficava revoltado com a violência psicológica dos
aspirantes: “Rastejar até mim! A tropa é linda! Filhos da puta, vá, rastejar
até mim! Vá seus cabrões, rastejar até mim!” Era assim que nos preparavam
física e mentalmente para morrer e matar. Era aguentar tudo.
Eu fiz a quarta classe com
10 anos, aos 11 tive a sorte de ir para uma oficina. Era um rapaz normalíssimo. E na tropa tive
pela primeira vez exercícios físicos e mentalização. Uma violência.
Pergunta
–
Quando foi mobilizado, em 1965, o que é que sabia sobre Angola e sobre o que lá
se passava?
Joaquim –
Eu não sabia se era mais ou menos perigoso que nos outros lados. Pensei só que
aquilo era uma fase da vida e que tinha que passar. A minha mãe, embora
analfabeta, sentiu mais o perigo do que eu. Quando eu lhe dei a notícia era
abraçou-se a mim a chorar.
Mário tinha ideias formadas
quanto à natureza da guerra. Nascido e criado em Alhandra, aprendera a ler
pelos livros de Soeiro Pereira Gomes e na adolescência conhecera Alves Redol.
Assentou praça e andou em bolandas, de regimento em regimento. Até que, com o
prostro de cabo miliciano, foi para Tancos tirar o curso de Minas e Armadilhas.
Mário –
O curso era tirado por sargentos e oficiais. E uma vez, quando acabou a
instrução, ficou um bocado de explosivo e detonadores encostados a um muro e
aquilo rebentou durante a noite. Fizeram um inquérito e tal. Eu tive que pagar
vinte escudos pelos vidros partidos.
Pergunta –
Quando foi mobilizado para a Guiné, em 1967, sabia o que lá se passava?
Mário –
Eu estava informado que a Guiné talvez fosse o pior que havia. Era o que eu
ouvia dizer. O meu pai e a minha mãe já morreram. Mas naquela altura, eu quando
foi para embarcar no Uíge, despedi-me primeiro da minha mãe e depois do meu
pai. E então eu vi o meu pai, que era uma pessoa muito dura, e eu vi-o a
chorar.
Jorge foi voluntário para
os Fuzileiros Navais para mudar de vida. A dura experiência da vida dera-lhe
para pensar que já tinha visto e vivido tudo.
Jorge –
Eu falo pouco sobre este assunto e vai-me custar a falar. Eu ofereci-me como
voluntário para os Fuzileiros porque não aguentava a má vivê3ncia que havia
entre os meus pais. O meu pai, que era polícia, agredia com frequência a minha
mãe. E essa violência, mais a pobreza - nós vivíamos os três num quarto –
levaram a que eu fosse internado no Patronato da Infância, na Rua das Escolas
Gerais. Estive lá oito anos, numa autêntica prisão. Passava fome. A única coisa
positiva era que conseguíamos estudar. Fiz o preparatório e depois fui para
Curso Comercial, na Veiga Beirão. Mas a partir dos 15 anos já não podia lá
continuar. Fui viver com os meus pais numa barraca. A falta de dinheiro, a
fome, o espírito de revolta, levaram-me a oferecer-me com o voluntário para os Fuzileiros.
fome, o espírito de revolta, levaram-me a oferecer-me com o voluntário para os Fuzileiros.
A instrução, como tropa de
elite, destinava-se a incutir-nos o espírito violento, para matar. Instrução na
mata e nas pistas do lodo, nas pistas de obstáculos – a aldeia dos macacos -,
exercícios de fogo real na Arrábida, onde um camarada ficou sem as duas pernas
porque lhe rebentou uma granada entre as pernas num declive do terreno.
Pergunta –
Quando soube que estava mobilizado, em 1968, o que é que sabia sobre a situação
em Moçambique?
Jorge –
Não sabia nada sobre Moçambique. Sabia mais sobre a Guiné. A preparação que
tínhamos era mais propícia para o terreno da Guiné. De maneira que nem me
importei de ir para Moçambique, desde que não fosse para a Guiné.
Nós saíamos de cá já com a
mentalidade de que era preciso matar. Fazia-se gáudio nisso, até nas conversas
que tínhamos.
E foi assim que, prontos
para o serviço e especializados, Joaquim, Mário e Jorge partiram para a guerra.
O embarque a viagem para a jornada de África acrescentou alguma coisa à
experiência de vida de cada um deles. Partiram os três do Cais de Alcântara,
como a maioria dos 800 mil jovens portugueses, entre 1961 e 1974.
Joaquim, mecânico numa
companhia de Polícia Militar, foi o primeiro a deixar no cais uma saudade de
pedra.
Joaquim –
Recordo-me de a família estar no cais. Impressionou-me muito a despedida da
minha mãe, abraçada a mim, a chorar. Eu faltei aquelas coisas da formatura e do
desfile – faltei sem justificar, faltei - e fui dos últimos a entrar para o
barco, que era o Vera Cruz.
 Entrei para o barco, fui
para o porão. O que mais me lembro é do barulho, tudo ressoava com muito
barulho, até o mar a bater no barco. E depois veio o enjoo. De resto foi jogar
à lerpa desde que partimos até que chegámos.
Entrei para o barco, fui
para o porão. O que mais me lembro é do barulho, tudo ressoava com muito
barulho, até o mar a bater no barco. E depois veio o enjoo. De resto foi jogar
à lerpa desde que partimos até que chegámos.
Pergunta –
Algum dos soldados admitiu que aquela podia ser a última viagem, sem regresso?
Joaquim –
Eu não me apercebi disso. E eu próprio não cheguei a ter essa noção.
Mário, furriel de Minas e
Armadilhas, embarcou de Lisboa para a Guiné. Fez uma escala breve em Bissau e
seguiu para Gadamael, um nome que não vinha nos mapas.
Mário
–
Recordo perfeitamente a partida no Uíge. Tinha-me despedido da minha mãe mas
ela arranjou o pretexto de me entregar uma escova de dentes e um pente para se
despedir novamente.
Lembro-me de ter partido. E
quando o barco começa a afastar-se. Há uma colega meu que tem um ataque de
histerismo. Ou medo, ou que foi, ficou ali a tremer. E eu dei-lhe duas
bofetadas e ele acalmou. De resto, não me recordo de nada da viagem. Só da
chegada a Bissau.
Jorge, voluntário para os Fuzileiros,
partiu de Lisboa para Moçambique, em 1968, sem amarras ao cais da partida. Um
adeus português sem saudade: na memória ficou apenas o registo da farra da
despedida.
 Jorge
–
Formámos um grupo, fomos para o Bairro Alto, prostitutas, bebida, de manhã
apresentámo-nos na Unidade e fomos para o embarque.
Jorge
–
Formámos um grupo, fomos para o Bairro Alto, prostitutas, bebida, de manhã
apresentámo-nos na Unidade e fomos para o embarque.
Entrámos de rompante no
barco, queríamos ser os primeiros, sem ligar nenhuma aos familiares. Era eu e
mais 2.499, no Vera Cruz. Tínhamos comprado uma arca de porão que enchemos com
garrafas de água-ardente, latas de chouriço, e até chegarmos a Luanda, que foi
a primeira paragem, nem pusemos os pés no refeitório.
Em Luanda desembarcámos e
voltámos a embriagar-nos. E depois embarcámos e fomos até Moçambique. E lá
desfilámos então em Lourenço Marques.
Em Angola (1965 – 67), na
Guiné (1967 - 68), em Moçambique (1968 – 70), Joaquim, Mário e Jorge viveram
diferentes experiências e situações militares.
Joaquim, cabo mecânico na
PM, ficou oito meses em Luanda antes de receber a guia de marcha para o Norte,
na sequência de um punição dada pelo comandante da Companhia e agravada pelos
comandantes da Unidade e do Sector Militar.
Joaquim –
Na prisão lembrei-me muito da família, comecei a entrar em depressão, comecei a
ter dores de estômago muito violentas, vómitos. Quando lá foi o médico à
Unidade mandou internar-me no Hospital Militar de Luanda. Estive lá trinta e
tal dias, em exames e tratamentos, e quando tive alta já não regressei à
Polícia Militar, fui para os Adidos, no Grafanil. E ali eu já sabia o que me
esperava: com uma porrada, ia para a mato.
E lá passei a ir nas
colunas, a Santa Eulália, para os abastecimentos. Ainda me faltava muito tempo
e eu arriscava, ia nas colunas como mecânico, a Santa Eulália, a Nambuangongo.
De vez em quando as colunas eram atacadas. Mas eu nunca fui nas colunas que
fiz. E quando comecei a ver que me faltava cada vez menos tempo eu comecei a
fazer contas à vida. Longe dos companheiros com que aqui embarquei, integrado
numa tropa que eu não conhecia de lado nenhum, mal por mal valia mais ficar no
arame farpado no acampamento do que estar a arriscar. Comecei-me a cortar de ir
nas colunas. E todas as noites, ao ir para a cama, lá riscava mais um dia no
calendário. Às vezes, para me enganar a mim, mesmo, riscava logo quatro ou
cinco dias de uma vez. E depois andava a quatro ou cinco dias a pensar que o
tempo nunca mais passava.
Mário esteve debaixo de
fogo na Guiné, em Gadamael, Cacine e Ganturé. Furriel miliciano de Minas e
Armadilhas, percorreu os corredores da morte, montando e levantando explosivos.
Na Guiné, nesses anos, a tropa portuguesa era flagelada nos próprios
aquartelamentos; e quando saía do arame, esperava-a a emboscada.
Mário –
Nas emboscadas notava-se uma coisa muito curiosa. Era a questão da coragem.
Havia soldados que na recruta tinham medo de saltar o galho; e no palco de
guerra tinham atitudes que eram consideradas de heroísmo. O heroísmo não
existe.
Pergunta –
O medo e o heroísmo andam muito perto um do outro?
 Mário – Era
isso mesmo que eu ia dizer. O heroísmo é uma reacção do medo. Isto é a minha
experiência, nunca perguntei a ninguém. A pessoa, em primeiro lugar sente medo;
mas logo a seguir tinha uma reacção positiva. Sentia a responsabilidade, sentia
o facto de ter pessoas sob a minha responsabilidade. Pode haver pessoas mais
destemidas que as outras; mas heroísmo não existe. E depois havia um período,
aos sete, oito meses de comissão, que era de anestesia. Parece que tanto faz,
não imposta a vida. Eu tinha medo de fazer o estrangulamento do cordão ao
detonador. Tinha medo, porque só rebentamento de um detonador arranca os dedos.
Com a carga explosiva vai tudo. Mas a partir de certa altura eu fazia o
estrangulamento com os dentes. Não utilizava o alicate estrangulador. Era com
os dentes.
Mário – Era
isso mesmo que eu ia dizer. O heroísmo é uma reacção do medo. Isto é a minha
experiência, nunca perguntei a ninguém. A pessoa, em primeiro lugar sente medo;
mas logo a seguir tinha uma reacção positiva. Sentia a responsabilidade, sentia
o facto de ter pessoas sob a minha responsabilidade. Pode haver pessoas mais
destemidas que as outras; mas heroísmo não existe. E depois havia um período,
aos sete, oito meses de comissão, que era de anestesia. Parece que tanto faz,
não imposta a vida. Eu tinha medo de fazer o estrangulamento do cordão ao
detonador. Tinha medo, porque só rebentamento de um detonador arranca os dedos.
Com a carga explosiva vai tudo. Mas a partir de certa altura eu fazia o
estrangulamento com os dentes. Não utilizava o alicate estrangulador. Era com
os dentes.
Pergunta
–
A sua especialidade, minas e armadilhas, compreendia colocar mas também
levantar engenhos que fossem detectados. Esse momento de levantar uma mina pode
descrever-se?
Mário –
É muito difícil. É um trabalho para o qual são precisos seis sentidos. Eu fazia
isso sozinho e concentrava-me, só pensava no que estava fazer e nem percebia se
tinha ou não tinha medo. Eu levanta-as quando via que havia condições. Quando
não havia condições para as levantar, rebentava-as.
Jorge foi ensinado a matar
no curso de Fuzileiros. À chegada a Lourenço Marques, o soldado da Infantaria
da Marinha desfilou com o aprumo da praxe. Mas à chegada ao Cobué, nas margens
do Lago Niassa, esperava-o a mais sinistra imagem da guerra.
Jorge –
Quando chegámos ao Cobué já íamos com o aviso de que uma Companhia tinha
sofrido 49 mortos e que posteriormente tinha ido para lá um destacamento de
Fuzileiros. E então para intimidar o inimigo, caçavam três ou quatro negros que
eram decapitados e as cabeças eram espetadas em paus à entrada do
aquartelamento.
Pergunta –
Assistiu a essa operação?
Jorge
–
Não. Mas quando cheguei estavam lá as cabeças espetadas. O máximo que se
aguentava no Cobué eram três meses. Eu fiquei lá dezoito meses, derivado a
castigos que já tinha. Era uma zona isolada. Mas ao menos fugíamos ao rigor que
era imposto pelo comandante da nossa Unidade. Sofremos vários ataques. Eu
próprio fui ferido num desses ataques. Não havia médico, não havia enfermeiro.
Fui evacuado para Nampula e vi tais coisas no Hospital Militar que fugi e fui
ao Comando Naval e contei o que se passava. E deve ter havido um rebate de
consciência, porque o Comando Naval mandou-me para o Hospital Civil onde fui
tratado. Quando tive alta fui enviado para Vila Cabral, onde passei o Natal de
1969. E foi aí que eu abri os olhos, graças a alguns alferes milicianos que me
ensinaram canções do Zeca Afonso com letras feitas por eles: “Estou farto deles
// da chicalhada // Só mandam vir // e não fazem nada // Ora vai pró mato / Ó
meu malandro // Por tua causa // é que eu aqui ando”. Foi a partir dessa noite
de Natal que eu passei a ter consciência da realidade.
Pergunta –
Quando falou da sua instrução, como fuzileiro, disse que o
objectivo era prepará-lo para matar. Utilizou essa
instrução? Matou?
Jorge – Utilizei mas não
tenho coragem de falar nisso…
(longa
pausa)
… Não dá.
Cumpridas
as missões em Angola, na Guiné e em Moçambique, Joaquim, Mário e Jorge voltaram
a Lisboa. Vivos e aparentemente inteiros e saudáveis. Os efeitos do stress de
guerra manifestaram-se depois.
Para
Joaquim, 28 anos depois de Angola, a guerra continua.
Joaquim –
Não acabou e pelo contacto que tenho com outros companheiros posso dizer que
para eles também não. Nós estamos em guerra constantemente. Não nos sentimos
bem em lado nenhum, tudo nos revolta. E, a minha vida, de há dez ou quinze anos
para cá, é andar sozinho na rua, se possível de madrugada ou de manhã muito
cedo, ou a partir das dez horas da noite. Porque não consigo andar nas
multidões. Nas horas em que há muito trânsito e pessoas, para os montes,
sozinho, assento-me numa pedra…
(chora
convulsivamente)
À noite ou
de madrugada é que venho para a rua. Dou-me mal com toda a família, perdi
trabalho, fui despedido, tudo por conflitos, zaragatas. Estive separado da
mulher, que ela chegou a uma altura que não me aguentava. Foi-se embora. É uma
guerra constante.
Pergunta – Procurou tratamento?
Joaquim –
A partir de 1986 / 87 comecei nas consultas do Hospital Júlio de Matos, com o
Dr. Afonso de Albuquerque e a Dra. Fani Lopes. E então eles através de
conversas e questionários definiram que a doença é provocada daí. Eu antes de
ir para a tropa era uma pessoa completamente normal. Praticamente não tenho
ninguém no mundo. A única pessoa que tenho é a minha mulher, que voltou. Ela
tem sofrido também e eu até tenho a impressão que lhe transmiti a doença. Ela
também já é instável.
Pergunta – O Joaquim consegue
identificar o que terá sido mais traumático em toda a sua vida?
Joaquim – O impacto da vida na tropa, o
comportamento das pessoas e as ofensas verbais. A minha guerra começou aqui, na
Metrópole, e os meus terroristas foram os oficiais. Eu nunca vi nenhum
terrorista, nunca sofri um ataque…
Mário vive em guerra
consigo e com os outros desde a Guiné 1967 – 68. A vida do ex-furriel de minas
e armadilhas é ainda hoje uma permanente explosão de conflitos.
Mário –
Eu na rua meto o bedelho em todo o lado. E depois eu avanço e não recuo. E
conforme o diagnóstico do Dr. Afonso de Albuquerque e da Dra. Fani foi que eu
sofria do stress de guerra. O questionário tinha três folhas, eles detectaram
logo na primeira.
Jorge, 25 anos depois do
Cobué, também não assinou ainda o cessar-fogo com a memória e a consciência.
Jorge – Vou
dizer uma coisa que é a primeira vez que digo. Eu depois de sair da tropa
entrei em conflito com a família, estive anos sem falar com a minha mãe, hoje
falo com ela normalmente, somos grandes amigos, mas com a família eu não
consigo falar. Tenho uma mulher excepcional, que me tem acompanhado, os meus
filhos também, a minha filha está a tirar um curso de educação especial e
tem-me ajudado bastante, e tive a sorte de ter uma médica de família que me
detectou o problema e me soube encaminhar e tenho a sorte de ter uma
psiquiatra, onde vou todas as semanas, para desabafar, para me aconselhar, e
foi ela, com a sua experiência, que me encaminhou para a psicoterapia comportamental.
Eu quando cheguei ao Júlio de Matos, ao Dr. Afonso e à Dra. Fani, já ia com o
diagnóstico feito.
Pergunta –
O Jorge consegue identificar o que terá sido mais decisivamente traumático na
sua experiência de vida militar?
Jorge –
Talvez a de um camarada, com os intestinos à mostra, ter estado à espera
bastante tempo pela evacuação. Quando eles chegaram, passado não sei quanto
tempo, havia quem quisesse abater o helicóptero pelo tempo que demorara. Se
calhar até nem demorou… Nós pensávamos que ele demorava pela ansiedade de
salvar o nosso camarada.
As guerras coloniais
consumiram vidas e marcaram uma geração. E talvez nenhuma história registe para
o futuro todo o sofrimento que marcou essas vidas: mais de 800 mil jovens
arrancados ao convívio das famílias, ao trabalho produtivo, aos estudos, para
serem lançados em três frentes de guerra, enfrentando a morte num, terreno
desconhecido e hostil, sofrendo de todas as carências, de medo, de raiva, de
saudade, sustentando três guerras que os próprios profissionais concluíram, ao
fim de treze anos, que não tinham saída nos campos de batalha.
Mais de 100 mil
ex-combatentes sofrem, ainda hoje, de distúrbios pós-traumáticos causados pelo
stresse de guerra: pesadelos, insónias, ansiedade, perturbações da memória,
tremores, depressões, doenças cardíacas, estados de alerta exagerados, neuroses
várias, tendências para o suicídio, perturbações emocionais e de relação,
insensibilidade afectiva, agressividade, sentimentos de culpa.


Na maioria dos casos, as
vítimas do stresse de guerra nem sabem que sofrem da doença, embora saibam, por
este ou aquele sintoma, que mais de vinte anos após o fim das guerras coloniais
ainda não assinaram o cessar-fogo consigo próprios nem apagaram as tatuagens da
memória.
Baixa por falecimento
Mário – Passado uns tempos de voltar da guerra, a minha caderneta militar veio-me parar às mãos. Não me lembro como foi. Guardei-a, eu queria era esquecer a tropa. Passado uns meses, casei-me. E precisei da caderneta quando foi para tratar dos papéis do casamento. Foi então que abri a caderneta e vi que estava averbado que eu tinha morrido na guerra no dia 12 de Outubro de 1967. Noutra página estava registado: Baixa de serviço por falecimento.
Casei-me e passado uns
tempos fui tratar do assunto. Um major disse-me que seria um engano mas não
tinha importância nenhuma. E eu respondi que não teria importância para ele mas
para mim tinha. Foi de facto um engano. Mas aconteceu que o engano não foi comunicado
à minha família, que seria um choque terrível, porque na data exacta em que se
dizia que eu tinha morrido eu estava de licença cá. Alguém no Quartel-general
percebeu que havia um engano porque eu estava de férias em Lisboa não podia ter
morrido na guerra na Guiné. E a comunicação à família foi travada ali. Eu sei
qual foi a troca que houve mas não quero falar disso porque o soldado que
morreu mesmo era grande amigo meu.
Entrevistas de João
Paulo Guerra, TSF, 25 de Abril de 1995
The
horror! O horror!
Passámos
toda uma tarde de sábado, das duas da tarde às nove da noite, fechados numa
pequeníssima sala que, ao fim da primeira hora, já era uma bolha de fumo de
cigarros acesos uns nos outros. Éramos um entrevistador e três entrevistados a
contas com memórias dolorosas. E as únicas interrupções foram para eu ir
comprar mais cassetes e mais pilhas para o gravador. A reportagem era para a
rádio e ouvida é outra coisa: ouvem-se os silêncios, as hesitações, os soluços na voz, a respiração da ansiedade.
Foram três entrevistas
simultâneas, duríssimas, com homens endurecidos a pontuar os seus desabafos com
lágrimas, gritos e vociferações, respirações aceleradas e convulsões, tudo vindo
do fundo da alma. E aqueles homens abriram as almas perante o repórter.
Eu tinha a minha própria
experiência do serviço militar e da comissão em Moçambique (1965 / 67). E
recordava-me que, na recruta do Curso de Oficiais Milicianos, em Mafra, um
soldado-cadete fora desmobilizado porque se queixava do mesmo que todos nós: incompatibilidade temperamental com o
serviço militar. A diferença é que o cadete desmobilizado era sobrinho de
um ultra-general do regime, daqueles que faziam discursos inflamados a mandar
toda a gente morrer pela Pátria. Toda a gente, menos o sobrinho.
Mas as experiências dos
meus entrevistados eram outra coisa: eram, à diferente dimensão de cada um daqueles
homens e respectivas experiências, aquilo que o escritor Joseph Conrad, no livro Heart of Darkness, e o cineasta Francis Ford Coppola, no filme Apocalypse Now, definiam com uma palavra: The horror! O horror! Por
mais básico ou apocalíptico que o horror de cada um pareça.
J.P.G.





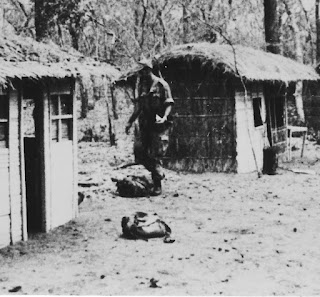







Sem comentários:
Enviar um comentário